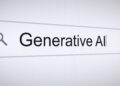Diego Albino Figueiredo, Mestrando em Gestão para Competitividade na FGV EAESP. Especialista em Data-Driven Marketing pela Universidade Nova de Lisboa e Chief Digital Officer no Grupo La Moda
Durante anos, a imagem do grande líder foi construída sobre uma promessa: a capacidade de entrar em cena, diagnosticar com rapidez e executar com firmeza. Essa figura do “resolvedor” — alguém capaz de transformar a incerteza em ação — domina conselhos de administração, entrevistas em revistas de negócios e salas de crise. O problema é que essa imagem, tão sedutora quanto ultrapassada, ignora a natureza mutante dos desafios que enfrentamos hoje.
Ambientes de ambiguidade não se deixam vencer pela velocidade de um plano bem escrito, tampouco pela disciplina de execução. Ao contrário: quanto mais complexa e nebulosa a situação, mais perigoso se torna o impulso por uma resposta rápida. A liderança viciada em ação imediata não é ágil, mas ansiosa. E essa ansiedade costuma levar a decisões superficiais, mal enquadradas ou politicamente convenientes, que ganham forma não por sua adequação ao problema, mas por sua aparência de controle.
Essa lógica cria um paradoxo perverso: quanto maior a incerteza, maior é a pressão por clareza imediata. E, ironicamente, quanto maior essa pressão, menor tende a ser a disposição para compreender o problema em profundidade. O resultado são organizações que saltam da dúvida ao plano sem passar pela investigação; que resolvem o que entendem mal; que substituem sentido por velocidade.
É nesse vácuo que surge uma nova função estratégica do líder: não a de controlador, mas a de arquiteto do caos: alguém capaz de construir estruturas cognitivas para que outros possam pensar, colaborar e agir de forma situada. Não se trata de adiar decisões, mas de saber que decidir sem mapear é mais um gesto simbólico do que uma estratégia real. Em vez de oferecer respostas prontas, esse novo líder desenha perguntas melhores.
A arte de construir sentido: o que é sensemaking
Líderes não são pagos para saber todas as respostas, são pagos para criar condições em que o desconhecido possa ser interrogado com inteligência. É justamente isso que propõe o conceito de sensemaking: a prática organizacional de construir sentido coletivo em cenários ambíguos, fragmentados ou imprevisíveis.
Na visão de Deborah Ancona (2012), professora do MIT Sloan, o sensemaking é um processo contínuo e coletivo de interpretação: líderes captam sinais, testam hipóteses, conectam diferentes perspectivas e ajustam continuamente o entendimento, como numa investigação constante e colaborativa. Mais do que dar direção, eles moldam as condições para que a direção se torne clara (Ancona, 2012).
Essa abordagem contrasta com a lógica tradicional do planejamento estratégico, que parte da premissa de um cenário minimamente estável e compreendido. Em tempos de ambiguidade, como reestruturações, transformações digitais ou decisões críticas sob incerteza, essa premissa não se sustenta. Não há mapa disponível, e tentar agir como se houvesse costuma gerar mais ruído do que avanço.
É aqui que o líder-arquiteto se diferencia. Ele não busca um plano pronto, mas desenha mapas transitórios, parciais, imperfeitos, e ainda assim úteis. Ele entende que fazer sentido não é uma etapa antes da ação, mas parte integrante dela. A ação é a forma como testamos as fronteiras do nosso entendimento. O sensemaking, portanto, não é introspectivo: é um método para agir enquanto se compreende.
Esse modo de operar exige disciplina, escuta, capacidade de absorver contradições. Mas oferece algo raro em contextos caóticos: decisões que emergem do entendimento, e não da urgência.
Mapear antes de agir: três movimentos para transformar ambiguidade em clareza progressiva
Se o líder-arquiteto não começa com um plano rígido, como ele inicia sua ação? A resposta está no processo deliberado do sensemaking em ação, estruturado em três movimentos interligados que se retroalimentam constantemente: Explorar o sistema, mapear o contexto e agir para aprender.
- Explorar o sistema: sair da bolha e ampliar o radar
Líderes em crise tendem a se fechar em círculos familiares: diretores, consultores de confiança, dados fáceis. Mas, em contextos ambíguos, os sinais relevantes quase sempre estão nas bordas, nas conversas informais, nos atritos operacionais, nas perguntas incômodas.
Explorar, aqui, significa escutar para além da superfície: quais dados qualitativos (rumores, desconfortos, microconflitos) estão surgindo? Quem são as vozes periféricas que enxergam algo que o centro não vê? Em vez de buscar conforto analítico, o líder busca complexidade interpretativa.
- Mapear o contexto: fazer sentido das forças em jogo
O segundo passo é traduzir essa massa de percepções, tensões e informações em um mapa interpretativo. Um bom mapa não é um diagnóstico definitivo, é uma lente para entender onde estão os atritos, onde há desalinhamento, onde a organização está operando no escuro.
O ARC Framework (Architecture, Routines, Culture), desenvolvido por Saloner, Shepard e Podolny (2001), oferece uma lente poderosa para interpretar organizações em momentos de ambiguidade. Ele permite ao líder visualizar claramente as fraturas internas da organização, assim como uma radiografia revela os problemas invisíveis a olho nu. Ele ajuda o líder a escanear três dimensões invisíveis, mas fundamentais:
- Architecture (Estrutura) – quem realmente decide? O organograma formal reflete a dinâmica de poder real?
- Routines (Rotinas) – o que está sendo feito todo dia que ninguém questiona? Quais hábitos estão em contradição com a estratégia?
- Culture (Cultura) – que crenças e tabus estão moldando as decisões? Que comportamentos são premiados ou punidos informalmente?
Ao cruzar essas lentes, o líder identifica onde o problema não é técnico, mas interpretativo. Muitas vezes, a ambiguidade vem de sinais mistos: uma cultura que pede colaboração, mas uma estrutura que premia competição. Um processo que exige inovação, mas uma rotina que sufoca riscos. O mapa revela essas fraturas.
- Agir para aprender: experimentos com propósito
Por fim, o líder-arquiteto não paralisa diante do inacabado, ele age. Mas age com outra intenção: não para resolver, mas para aprender.
Pequenos experimentos de baixo risco, como pilotos, sprints, conversas públicas, e reconfigurações temporárias servem como sondas para testar hipóteses sobre o sistema. Cada ação retroalimenta o mapa, trazendo novos dados, novos desconfortos, novas possibilidades. É um processo vivo, iterativo, de construção coletiva de sentido.
Antes da resposta, o problema
Não faltam líderes dispostos a decidir; faltam líderes dispostos a entender. Imagine uma organização em crise, em que todos correm em busca de respostas rápidas, mas ninguém para, para entender profundamente o problema. Essa não é uma liderança eficiente, é uma liderança performática. O líder-arquiteto é diferente: ele se destaca por sua coragem em enfrentar a ambiguidade com perguntas melhores, não apenas com respostas mais rápidas.
A maioria das organizações modernas ainda recompensa quem parece seguro, quem fala com firmeza, quem apresenta respostas com prazo e PowerPoint. Mas, nos bastidores, muitos desses líderes estão navegando no escuro, e sabem disso. A resposta que apresentam é, muitas vezes, mais uma performance de controle do que uma convicção ancorada no real.
O que diferencia o líder-arquiteto não é a ausência de ação, é o compromisso radical com a escuta, a interpretação e a aprendizagem contínua. Ele sabe que decidir cedo demais é decidir mal disfarçado. Por isso, projeta estruturas que ajudem outros a pensar, não apenas a executar. Constrói mapas, mesmo sabendo que eles vão mudar. E quando age, é para testar o chão antes de avançar, não para encenar domínio.
Essa não é uma liderança mais lenta. É uma liderança mais lúcida.
Porque, no fim das contas, não é o caos que paralisa uma organização, é a tentativa ansiosa de escondê-lo. E líderes que dominam a arte de mapear o invisível serão sempre mais úteis do que aqueles que apenas se apressam para oferecer respostas.
Referências
ANCONA, D. Framing and acting in the unknown. The handbook for teaching leadership: Knowing, doing, and being, 3-19, 2012.
SALONER, G.; SHEPARD, A.; PODOLNY, J. M. Strategic Management. New York: Wiley, 2001.
Texto originalmente publicado no blog Gestão e Negócios do Estadão, uma parceria entre a FGV EAESP e o Estadão, reproduzido na íntegra com autorização.
Os artigos publicados na coluna Blog Gestão e Negócios refletem exclusivamente a opinião de seus autores, não representando, necessariamente, a visão da Fundação Getulio Vargas ou do jornal Estadão