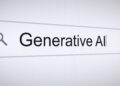Luiz J. Nunes é consultor de Inteligência Artificial e Ética na Tecnologia na Harmona, matemático, mestre e doutorando em psicologia social pela USP.
Ianaira Neves é Professora e Coordenadora da linha Gestão de Pessoas do Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade (MPGC) da FGV EAESP.
O anúncio das demissões em massa no Itaú no início de setembro, envolvendo cerca de mil funcionários em regime de trabalho remoto, reaquece um conflito essencial sobre o futuro do trabalho: até que ponto tecnologias de monitoramento podem ou devem ser utilizadas como parâmetro para avaliar a produtividade humana?
Em nota à imprensa, o banco justificou que a medida fazia parte de um processo de gestão responsável, visando preservar a cultura organizacional baseada no valor da confiança entre clientes, colaboradores e a sociedade. Contudo, parte das demissões teria se baseado nos registros de inatividade feitos por ferramentas de vigilância nas máquinas corporativas, apontando períodos de quatro horas ou mais de suposta ociosidade.
O caso é ilustrativo de uma questão maior, que atravessa diferentes setores e empresas: qual o risco de se medir pessoas como máquinas? E como garantir que a tecnologia no acompanhamento do trabalho humano se faça de maneira crítica e responsável?
Ferramentas de monitoramento digital têm a capacidade de registrar tempo de conexão, número de cliques, uso de programas e até as movimentações do mouse. Em tese, esses indicadores oferecem uma visão objetiva da “atividade” de um funcionário. Porém, há uma distância considerável entre atividade mapeada digitalmente e produtividade. Estar conectado não significa gerar valor.
Um trabalhador pode estar conectado o dia inteiro sem entregar resultados de impacto; outro pode passar horas desconectado, refletindo ou estruturando soluções, e em seguida produzir algo de valor muito superior. Ou pode atuar em ambiente não totalmente rastreável, seja via celular, deslocamento e atendimento presencial, etc. O risco é reduzir o trabalho a um registro mecânico de movimentos, confundindo o velho fenômeno de “presencialismo” com performance e “silêncio digital” com inatividade.
Esse reducionismo nos coloca diante de um dilema estratégico. De um lado, as métricas digitais podem oferecer informações úteis e ajudar a gestão a identificar padrões de uso e gargalos operacionais. De outro, quando tomadas como sinônimo de produtividade, podem induzir a equívocos graves. O perigo maior surge quando a empresa deixa de usar a tecnologia como apoio e passa a delegar a ela decisões estratégicas que exigem interpretação, contexto e sensibilidade humana.
É preciso romper também com a crença de que a tecnologia é neutra. Nenhum algoritmo é infalível, e nenhum sistema é isento de pressupostos. As métricas carregam escolhas: o que medir, o que ignorar, como definir parâmetros. Essas escolhas refletem os modelos mentais de quem as constrói, sendo construídas a partir de pressupostos totalmente humanos (políticos e culturais). Quando se afirmar que uma tecnologia “mede produtividade humana”, ou “seleciona o melhor perfil” para uma posição de trabalho, ou “mensura engajamento ou o bem-estar” dos colaboradores, devemos nos perguntar “Qual modelo mental definiu o que é ‘produtividade’, ‘melhor perfil’ ou ‘engajamento’ para essa máquina?”.
É crucial questionar quais perspectivas ensinaram a avaliação. Afinal, uma máquina não compreende verdadeiramente os significados de quaisquer um desses conceitos e podem reforçar desigualdades. Quando os dados são utilizados de maneira acrítica, sem questionamento sobre o que representam, corremos o risco de legitimar injustiças sob a aparência de objetividade.
O risco não é exclusivamente ético, é estratégico. A curto prazo, pode parecer vantajoso simplificar o monitoramento para cortar custos ou acelerar decisões. Mas a médio e longo prazo, os efeitos podem ser corrosivos. Perdem-se talentos que não se sentem reconhecidos, abala-se a reputação da empresa perante a sociedade e investidores, fragiliza-se a capacidade de adaptação em ambientes complexos e, principalmente, mina-se a confiança, que é a base de qualquer cultura organizacional sustentável. Afinal, uma cultura de confiança não se sustenta sob vigilância constante ou métricas que desconsideram a realidade do trabalho.
Vale lembrar que a produtividade que realmente importa – para empresas, para trabalhadores e para a economia – não é mapeada e rastreável em relatórios automatizados. Ela está na capacidade de transformar conhecimento em valor, de inovar, de construir relações de confiança e de colaborar para objetivos comuns.
A tecnologia pode — e deve — ser usada para apoiar esse processo, mas não pode substituí-lo. Há dimensões do trabalho humano que não são traduzíveis em métricas. Medir performance exige olhar para além dos números. Exige compreender a cultura organizacional, escutar os trabalhadores, avaliar a qualidade das entregas, considerar os contextos, estabelecer comunicações claras e responsáveis, e não apenas mensurar pessoas como máquinas.
Se a gestão do futuro quiser ser sustentável, precisará abandonar a tentação de reduzir pessoas a dados brutos, aprender as potencialidades e limitações dessas novas ferramentas e, claro, desviar-se de simplificações rasas através da tecnologia. Caso contrário, arrisca não apenas cometer injustiças, mas a minar a própria base de sua longevidade: a criatividade, a confiança e a motivação das pessoas que a sustentam.
* Os artigos publicados na seção Coluna do Blog Impacto refletem exclusivamente a opinião de seus autores, não representando, necessariamente, a visão da instituição.